❤️ Ajude a manter esse conteúdo gratuito! Torne-se assinante ou compartilhe com amigos.
“Early this morning, when you knocked upon my door/And I said hello, Satan, I believe it’s time to go”, chora Robert Johnson em Me and the Devil blues enquanto seu violão é debulhado em seu estilo tão único de tocar. Desde que o blues foi incorporado à nascente indústria fonográfica norte-americana, uma porção de canções com temática mais ou menos sobrenatural começou a pintar entre aqueles discos de poucas rotações, gravados de forma amadorística em estúdios improvisados em quartos de hotel. Membro fundador do “clube dos 27” e falecido sob circunstâncias misteriosas (que viriam a gerar todo um folclore em cima de sua figura), Robert Johnson gravaria ao longo da década de 1930 Crossroad blues, Hellhound on my trail, Come on in my kitchen e tantas outras letras que não apenas virariam standards do blues, como também seriam incorporadas à mística de que o gênero musical afro-americano por vezes estaria se comunicando com outro plano de existência através de seus acordes. É claro que, do ponto de vista narrativo, isso dá muito pano pra manga; cineastas como Walter Hill já fizeram filmes baseados nesse universo musical/espiritual, como o Crossroads de 1986. Em uma toada que parte do mesmo cancioneiro afro-americano, mas se envereda por uma melodia muito particular, Ryan Coogler escolhe construir todo o seu novo filme — Pecadores, que está em cartaz neste instante — em cima de mais e melhores blues.
Ok, a esquemática da trama é a de ser um filme de vampiros no qual a construção das tensões ocupa integralmente a primeira parte e o elemento sobrenatural surge quase que de surpresa lá pela metade da minutagem, à moda do Um drink no inferno de Robert Rodriguez e Tarantino. Mas o que há de verdadeiramente interessante e original em Pecadores é o seu caráter fabulatório no que diz respeito às relações de raça nos EUA. Acompanhamos os gêmeos negros Stack e Smoke, vividos por Michael B. Jordan (parceiro frequente de Coogler, participando de basicamente todas as suas fitas), que levantaram uma grana trabalhando para os gangsters de Chicago durante a Lei Seca, passaram a perna nos capos e voltaram para sua terra natal, o fervilhante Mississipi da década de 1930 em que floresciam em terra fértil as sementes do Delta blues. Os irmãos recrutam seu priminho mais novo, o violonista de igreja “Preacher boy” Sammie, e toda uma entourage de amigos para viabilizar o funcionamento de uma juke joint — um clube de blues destinado à população negra local, em um espaço simbolicamente comprado pelos gêmeos de um integrante da Ku Klux Klan. Se nos referimos a isso tudo como “fabulatório”, é porque o filme não deixa de saborear, desde esses primeiros instantes, aquilo que é como uma fantasia de poder: “como seria se negros realmente tivessem agência e pudessem exercer cidadania, poder de compra e liberdade nos EUA durante um período marcado pela segregação?”. É também uma fantasia de consumo, um negócio bem norte-americano. Bem vestidos de passeio completo e chapéus à moda da máfia de Chicago, Stack e Smoke peitam os racistas, possuem uma carteira recheada e estão rodeados de amores e amigos de fato nos lugares onde chegam. Por aqui, nossa sensibilidade ladinoamefricana vê, nesse tipo de figura, a personificação de máximas como o “favela venceu”. É claro que a favela, como se sabe, não venceu e continua no mesmo lugar com os mesmos problemas; mas alguns de seus expoentes conseguem contrariar as estatísticas e alçar voos altos, trazendo para perto aqueles que lhes são mais próximos em busca de uma vida melhor. Assim são os personagens de B. Jorden de Pecadores, agregando uma porção daqueles em quem confiam com um amor fraternal na criação da juke joint.
O grupo inclui um casal chinês que é dono de um mercadinho local (chamado para fornecer os mantimentos), a esposa de Smoke (que comanda as atividades na cozinha), um amigo corpulento (responsável pela segurança), a namorada que Stack deixou no Mississipi quando foi a Chicago (uma jovem mestiça de pele clara, mas que nos EUA é tida como negra pelo princípio da “one-drop rule”) e um tradicional bluesman bom-de-copo da região (encarregado da música, junto com Sammie — o velho e o novo, conflito que chega a ser estabelecido entre os dois, mas não tarda a ser resolvido em bons termos). Tudo em clima intimista, de “quase uma família”, e que por vezes pontua diferentes questões que Coogler tenta colocar em jogo, ainda que não desenvolva todas com maior desenvoltura. A cozinheira Annie possui forte ligação com as manifestações ancestrais da religiosidade afro-diaspórica; a presença dos asiáticos Grace e Bo Chow na turma é um aceno para a solidariedade entre minorias raciais que as torna mais fortes; o leão-de-chácara Cornbread é buscado pelos gêmeos enquanto está colhendo algodão com a família em uma plantação, em uma atividade que remete aos tempos da escravidão; a namoradinha Mary, lida pelos brancos como “uma intrusa” na juke joint negra, evoca os debates raciais sobre mestiços que “passam por brancos” e estão presentes no cinema norte-americano pelo menos desde a obra de Oscar Micheaux, o cineasta e polímata negro que fez Within out Gates e The Symbol of the Unconquered na década de 1920; e por fim o pianista beberrão Delta Slim representa o clássico arquétipo do personagem decadente com coração de ouro, um alerta ao jovem Sammie sobre o que ele pode se tornar caso siga de forma desregrada na vida noturna dos bluesmen.
Em contraponto a essa comunidade que, em meio a uma vida modesta no Mississipi, é abraçada pelos gêmeos após seu súbito enriquecimento, Pecadores apresenta seus vampiros como homens e mulheres brancos. Coogler faz uma boa sacada em também torná-los músicos; quando eles tocam canções folk no banjo há uma clara justaposição em relação ao blues, “música branca versus música preta”; o longa chega a tematizar, através da metáfora do vampirismo, o ato de assimilação das culturas pretas por diluidores brancos (como na popularização do rock and roll, etc). Os que conhecem em maior grau a história dos Estados Unidos podem estranhar a escolha de retratar os vampiros como sendo irlandeses — povo historicamente oprimido na Europa que chegou como imigrante nos EUA para realizar trabalhos braçais e morar em bairros guetificados — mas Coogler contorna isso ao mostrar que o casal transformado pelo primeiro vampiro da fita possuía, em vida, laços com a Ku Klux Klan. Isso por si só já gera um metacomentário sobre os Estados Unidos e sobre o cinema americano; quando os vampiros invadem a juke joint de forma destrutiva, temos a Klan vilipendiando um espaço de sociabilidade negra, como retratado de forma heroica no The Birth of a Nation de D.W. Griffith ou com ares trágicos no Symbol of the Unconquered de Micheaux. O longa inclusive dobra a aposta e, despindo-se de qualquer sutileza que ainda pudesse restar nesse sentido, embala na sequência do ataque monstruoso uma segunda investida, dessa vez por integrantes não-vampirizados da Klan, comandados pelo velho fazendeiro racista que vendera aos gêmeos o galpão onde foi aberto o clube de blues. É como se, ao encerrar o arco do filme com uma ameaça que não é sobrenatural, o diretor quisesse deixar claro que ali estaria o real inimigo. No apelo ao didatismo, esse abandono da sutileza está entre os momentos em que Pecadores fraqueja em sua execução; e os déficits da obra mostram-se tanto no plano estético quanto no discursivo.
Isso não quer dizer que Pecadores não seja um filme digno de nota; há algo como uma lufada de ar fresco em conferir um barato que parece amparado em preocupações autorais e interesses temáticos legítimos vindo de um cineasta que passou uma década como operário da máquina hollywoodiana. Afinal, após despontar com Fruitvale Station, Coogler passou os últimos dez anos repaginando a série Rocky para Stallone & companhia com Creed e dirigindo Pantera Negra 1 e 2 para a franquia de super-heróis da Marvel. Em entrevista ao Deadline, o cineasta chegou a falar abertamente sobre como, em todos esses projetos, atuou basicamente como um diretor de aluguel que pôde, pedindo licença, oferecer algo de sua perspectiva. O modus operandi industrial da contemporaneidade parece curtir a ideia de moer talentos promissores, tomando um diretor como Barry Jenkins e, após vê-lo fazer Moonlight e Se a rua Beale falasse, o encaminhando para dirigir um derivado do Rei Leão animado em computação gráfica. Coogler conseguiu eventualmente escapar dessas engrenagens — mas não sem deixar à mostra alguns dos vícios adquiridos enquanto esteve lá dentro. Infelizmente, isso pode ser conferido sobretudo através de sua direção.
Pecadores é parcialmente rodado em IMAX, formato-fetiche que hoje costuma estar acessível sobretudo a diretores de blockbusters middlebrow1 como Christopher Nolan ou Dennis Villeneuve. Ainda que seu novo longa certamente seja mais interessante do que a produção recente dos dois cineastas tomados como exemplo, Coogler em nada aproveita visualmente o recurso do 70mm. Durante mais ou menos a primeira hora de projeção, enquanto filme e espectador exploram o Mississipi e vão conhecendo os personagens, por vezes temos uma externa melhor trabalhada ou planos-sequência que exploram a cidadezinha cenográfica, mas boa parte de Pecadores possui um aspecto visualmente turvo, estranhíssimo. Em diversos momentos, parece que a ordem ao fotógrafo é centralizar os personagens que estão em primeiro plano e borrar absolutamente tudo o que estiver fora de foco, transformando os espaços em uma massa turva. Alguém há de explicar essa mania que tomou conta dos fotógrafos na década de 2020; Vitória, também lançado esse ano e dirigido pelo brasileiro Andrucha Waddington, sofre do mesmo mal — mas vá lá, Vitória é uma historinha mais contida. Em um trabalho como Pecadores, filme de gênero com figurinos e cenários de época e polvilhado de efeitos especiais, esse ímpeto de obscurecer os cenários é um verdadeiro desserviço a todo o esforço de construção da ambientação.
Coogler chega a decupar algumas sequências de forma mais inspirada. Ainda que reforce o didatismo que caracteriza o longa, a sequência em que a música tocada por Sammie agrega espíritos do passado e do futuro, promovendo uma representação visual da união entre diferentes estratos da música negra através dos séculos, não é de todo mal-resolvida visualmente. O problema maior está nas sequências de ação, em que os anos passados sob a máquina industrial hollywoodiana mostram seus efeitos duradouros sobre a mise-en-scene do diretor. A batalha entre os vampiros e o grupo da juke joint, que se dá quando o galpão está em chamas, em dados momentos se enrola em uma verdadeira confusão visual, na qual torna-se difícil distinguir o que está acontecendo, quem está atacando, quem está sendo atacado, quem está morrendo e quem está vivendo. Isso parece fruto de uma real dificuldade em conciliar todos os elementos da ação mais do que uma decisão deliberada de encenar um caos desordenado. Há cem anos atrás, Fritz Lang fazia a batalha final de seu Die Nibelungen em uma fortaleza em chamas, decupando tudo com clareza e com um estilo visual bem demarcado e dedicando, a cada personagem envolvido na luta, um momento único que garantia o envolvimento emocional do espectador. Algo foi perdido ao longo de um século de cinema, e sequências de ação como aquela comandada por Lang parecem — e, bem, são — relíquias de outro tempo. Perdeu-se a arte da sequência de ação, que até pouco tempo atrás ainda era dominada plasticamente até por cineastas de menor talento como Michael Bay (hoje sobram poucos artífices decentes para a ação em Hollywood; talvez o mais bem-quisto seja Christopher McQuarrie). No filme médio do cinemão americano contemporâneo, a sequência de ação costuma a ser uma espécie de acidente de percurso, algo feio quase que por definição que o espectador precisa encarar para chegar à conclusão emocional da narrativa. Não precisava ser assim, mas vem sendo. A presença do genial Delroy Lindo no papel de Delta Slim, que sacrifica-se pelos companheiros em meio a essa batalha, chega a remeter a Da 5 Bloods de Spike Lee: outra produção cheia de boas ideias que pena em sequências de ação terríveis, mas que são seguradas pela presença maciça de Lindo e por sua potência dramática.
Toda a maneira como Pecadores lida com a ação, aliás, só faz jogar lenha na fogueira das contradições ideológicas que dão a tônica do filme. Ideologicamente, é uma quimera que mostra-se progressista pela maneira como lida com raça, mas ao mesmo tempo soa extremamente conservadora ao reforçar seu desejo de status pelo estilo de vida norte-americano (como dizia um velhinho barbudo aqui no outro extremo das Américas: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor). Talvez herdando isso dos bangue-bangues de Chicago, os gêmeos resolvem tudo na base da bala. Mesmo quando fica provado que armas de fogo não matam vampiros, elas seguem sendo usadas para freá-los e tornar possível a morte por estacadas no coração — o que é muito cool, mas nem sempre prático. Dentro da fantasia de poder promovida pela fabulação negra nesse Mississipi dos anos 1930, há um verdadeiro fetiche pela arma de fogo; Coogler claramente gosta de rodar as sequências de tiroteio e o filme se regozija nelas, sobretudo com a morte dos membros da Klan no último conflito. Em Pecadores, parece não haver ambiguidade ou reflexão crítica sobre o fato de que, há 90 anos tanto quanto hoje, armas de fogo são historicamente utilizadas para subjulgar e assassinar à sangue frio a população negra por aqueles que deveriam ser os agentes da lei e da ordem. Não há espaço para um pensamento mais profundo a esse respeito em meio ao mundo de faz-de-conta desse Mississipi sobrenatural, que em pouco lembra o estado cantado em verso por Nina Simone.
Existem alguns aspectos que seguram as pontas de Pecadores, apesar do filme ser irregular dentro do que foi posto anteriormente. A forma como Coogler lida com sexo e sexualidade é funcional em um mundo no qual as fitas de ação e aventura andam cada vez mais castas; quando Mary é infectada e ensaia a traição de seu namorado com o outro gêmeo, a pretensa sedução serve como pretexto para a dentada vampiresca, o que é bem conduzido cênicamente dentro do que é testemunhado pelo garoto Sammie. O próprio texto fílmico também é estruturado de maneira proveitosa: apesar de B. Jordan ser uma estrela e aqui assumir um papel duplo, é o priminho violeiro vivido por Miles Caton quem realmente ocupa um papel de protagonismo na obra, que em última instância é uma jornada de amadurecimento à moda coming of age centrada na fatídica noite que selou seu destino como músico. O epílogo reforça essa razão de ser de Pecadores e brinda os fãs de blues com uma simpática participação especial da lenda viva Buddy Guy. No mais, a impressão geral é a de um filme que poderia ser mais do que é, no qual sobressaem-se a originalidade e a riqueza temática, feito por um autor que está lutando para se desprender dos vícios de linguagem industriais, mas nem sempre vence as batalhas.
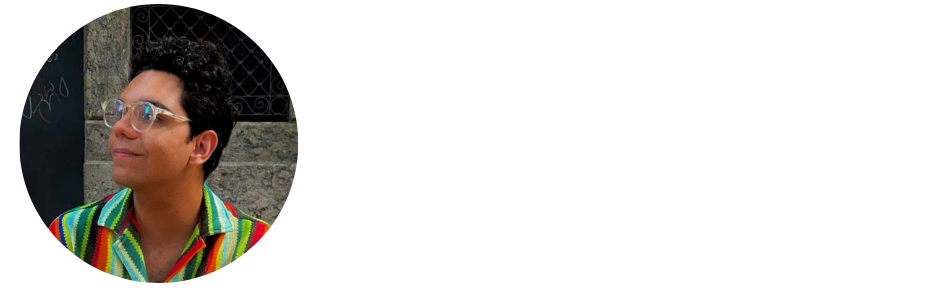
PECADORES, dir. Ryan Coogler.
Sinopse: Tentando deixar suas vidas problemáticas para trás, dois irmãos gêmeos retornam à sua cidade natal para recomeçar, apenas para descobrir que um mal ainda maior está esperando para recebê-los de volta.
Hoje nos cinemas.
Duração: 2h17. Assista ao trailer.
"Música, literatura, arte e cinema que são de boa qualidade, interessantes e por vezes populares, mas podem ser entendidos com bastante facilidade” – Cambridge Dictionary Online, tradução livre.






resenha excelente 🙂↕️